Placar
Um grande jogo de Lego
Adeus, ostentação. Nos Jogos de 2016, o que vai dominar a paisagem é o design da desconstrução, que monta, usa, desmonta e remonta edifícios inteiros

Celebração da superação e da excelência nos esportes, as Olimpíadas também passaram a ser eventos nobres no calendário dos arquitetos à medida que foram crescendo em modalidades e importância. Vitrines de projetos inventivos e experimentações ousadas, as instalações esportivas serviram de palco para espetáculos de poder e opulência, traduzidos sobretudo nos estádios: o de Sydney, em 2000, tinha 110 000 lugares, o maior já erguido; o de Atenas, em 2004, exibia um teto retrátil em arco assinado pelo prestigiado espanhol Santiago Calatrava; o de Pequim, em 2008, era um primor de graciosidade e leveza na forma que lhe deu nome, o Ninho de Pássaro. Foi espetacular enquanto durou, mas durou pouco – a maioria transmutou-se no temido elefante branco. Lição aprendida, agora os tempos são outros, e muito mais contidos.
As obras no Rio de Janeiro, que começam a deixar as pranchetas, já são um espelho da era da contenção. Em 2016, o “estádio olímpico” será o bom e velho Maracanã, rejuvenescido pela reforma pré-Copa do Mundo. Seguindo uma tendência iniciada nos Jogos de Londres, o design predominante é o da desconstrução: estruturas que podem ser desmontadas completamente ou rearranjadas e remanejadas conforme a necessidade. “No mundo esportivo, as obras grandiosas estão cedendo lugar a projetos que sejam reaproveitáveis ao máximo. A nova ordem é: make your assets sweat – faça com que as construções suem tanto quanto os atletas nas competições; elas precisam ter múltiplos usos”, explica o arquiteto Adam Williams, da inglesa Aecom, que concebeu o projeto do parque olímpico carioca.
Plenamente encaixado nessa concepção, o centro aquático, assinado pela alemã GMP, é uma das maiores estruturas esportivas desmontáveis já erguidas no mundo, com seus 14 000 metros quadrados e capacidade para 18 000 espectadores. Ele não terá sistema de ar condicionado, só ventilação natural, canalizada por uma fachada sem paredes – serão 492 canos verticais dispostos a 1 metro de distância um do outro – e por furos nos degraus das arquibancadas, um esquema inovador testado em maquetes submetidas a túneis de vento. Os acessos saem da chamada via olímpica, uma espécie de passarela que percorre todo o terreno. No parque aquático, como nas demais instalações, não há elevadores para o público em geral. Compostas de módulos metálicos, as duas piscinas, uma oficial e a outra de aquecimento, vão ser desmontadas e reconstruídas em outros locais; da mesma forma, os tubos e demais componentes da estrutura vão ser armazenados e reutilizados, mas ainda não têm destino certo – este, aliás, um aspecto da etapa pós-Jogos a ser acompanhado com toda a atenção. “Nossa grande preocupação era projetar um edifício ao mesmo tempo bonito e funcional. Os tubos formam um desenho que imita as ondas do mar e dão uma ideia de leveza”, descreve o arquiteto alemão Ralf Amman, da GMP. É dela também o projeto do centro de tênis, igualmente com tubos na fachada e linhas onduladas.
O centro aquático faz parte do parque olímpico de 1 milhão de metros quadrados (a metade do equivalente londrino), instalado em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. “É um parque compacto”, diz Williams, da Aecom. “Para que coubesse tudo, inclusive áreas de convivência e de circulação agradáveis, planejamos os espaços como se fossem as engrenagens de um relógio.” Além das piscinas, o espaço abriga o velódromo, a quadra de handebol, o centro de tênis e um conjunto de três arenas multiúso (onde, para poupar terreno, as costas de uma arquibancada são coladas às de outra, separadas apenas por um sistema de isolamento acústico).
Só o velódromo – que lembra um capacete de ciclismo e acomoda 5 000 pessoas – é obra 100% definitiva, que permanecerá como está. O centro de tênis e as arenas terão as dimensões drasticamente reduzidas, para se adequar à demanda da cidade. A quadra de handebol também vai sumir da paisagem – que passará a integrar, junto com a vila olímpica (onde estão as acomodações dos atletas), um bairro novo no Rio de Janeiro. Fruto dessa arquitetura nômade, a arena é feita em blocos que serão desmontados e, em boa parte, já têm destino definido: vão compor a estrutura de quatro novas escolas municipais. “Foi praticamente um exercício de peças de Lego. Tivemos de projetar tudo no tamanho certo, ir e voltar no planejamento várias vezes”, conta o arquiteto-chefe Gilson Santos. Outra preocupação foi contratar a mesma empresa de engenharia para montar, desmontar, transportar, armazenar e depois remontar a instalação em outro local. A ideia é garantir que as peças sobrevivam incólumes às idas e vindas.
A exigência de funcionalidade das construções olímpicas é fruto de duas mentalidades relativamente novas. Uma, de caráter urbanístico: por força de uma revisão de prioridades percebida no mundo todo, as metrópoles modernas estão priorizando projetos cada vez mais práticos e sustentáveis. Outra, do próprio universo olímpico: as cidades não brigam mais para sediar os Jogos; pelo contrário, é o próprio Comitê Olímpico que procura atraí-las com a garantia de um legado relevante. “Construções como as que estão sendo feitas no Rio exigem projetos muito bem pensados e grande conhecimento técnico”, afirma Roberto Anderson Magalhães, professor de urbanismo da Faculdade de Arquitetura da PUC-Rio. As obras estão apenas começando. Se elas não forem desvirtuadas em desvios de verbas e atrasos, tão costumeiros no Brasil, a arquitetura da Olimpíada do Rio poderá deixar uma marca positiva e duradoura tanto na cidade quanto na própria história das competições.
Colaborou Cíntia Thomaz
Para ler outras reportagens compre a edição desta semana de VEJA no IBA, no tablet, no iPhone ou nas bancas.
Outros destaques de VEJA desta semana
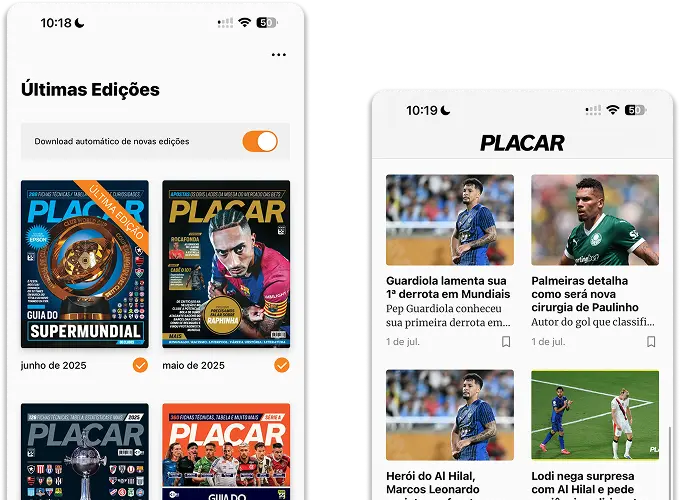
Baixe nosso aplicativo
Uma frase para descrever motivos para baixar nosso aplicativo
Baixe nosso app






















