Placar
A Copa da miscigenação
A presença cada vez maior de ídolos estrangeiros ou com raízes coloniais aquece a boa briga contra o racismo, a xenofobia e o nacionalismo populista


Teve início na última semana a Eurocopa mais multicultural de todos os tempos. A pluralidade não se dá apenas pelo fato de a edição comemorativa de sessenta anos da competição ser jogada em onze países (Alemanha, Azerbaijão, Dinamarca, Escócia, Espanha, Holanda, Hungria, Inglaterra, Itália, Romênia e Rússia), mas pelas raízes de vários de seus protagonistas. O fenômeno precede a globalização, já que desde a primeira Copa do Mundo, há 91 anos, havia atletas naturalizados. Agora, porém, ganhou escala sem precedentes. Cerca de 15% dos inscritos da Euro 2020 (adiada em um ano por causa da pandemia) são estrangeiros ou filhos de imigrantes.
A equipe mais miscigenada é justamente a principal favorita, a atual campeã mundial França, com dezesseis atletas descendentes de antigas colônias como Congo, Mali, Argélia, Tunísia e Guadalupe. Trata-se, também, da Euro mais politizada, um reflexo da fervura desse caldeirão étnico. Temas como racismo, xenofobia e os efeitos de velhas guerras nunca foram tão debatidos em campo.

“Acho que o racismo no futebol está em seu ponto mais alto, por causa das redes sociais”, desabafou o atacante belga Romelu Lukaku, filho de congoleses, à TV inglesa. Atletas de renome como ele e o alemão Antonio Rüdiger, zagueiro do Chelsea com raízes em Serra Leoa, têm combatido o preconceito com firmeza. O caminho é longo, como se viu na estreia da própria Bélgica, em São Petersburgo. Lukaku, seus colegas e o árbitro do jogo se ajoelharam no gramado em um gesto que se transformou em símbolo de movimentos antirracistas. Os atletas russos, porém, ficaram de pé e alguns dos torcedores vaiaram.
Jogadores de Hungria e Croácia, outros países com forte viés nacionalista, também se negaram a ajoelhar. “Olhando do nosso ponto de vista cultural, esse gesto é uma provocação”, cravou Viktor Orbán, premiê húngaro de extrema direita, que liberou 100% da capacidade de público nos jogos em Budapeste e, fã de futebol, vem utilizando o esporte como propaganda eleitoral visando a um quinto mandato em 2022. Polêmicas como um detalhe no uniforme da Ucrânia (um mapa que inclui a Crimeia, região anexada pela Rússia) e um gesto supostamente supremacista de Marko Arnautovic, austríaco de ascendência sérvia, na partida contra a Macedônia do Norte, marcaram a rodada inaugural.

A atual edição registra também um recorde de brasileiros naturalizados, sete no total. A Itália conta com Rafael Tolói, Emerson Palmieri e Jorginho. Outro caso notável é o do meia paranaense Marlos, da Ucrânia. Vivendo há nove anos no país, ele se esforçou para aprender russo e aceitou o convite de Andriy Shevchenko, ídolo local e atual técnico da seleção. É uma tendência que vem crescendo. O Brasil já teve dois campeões da Euro: o volante paulista Marcos Senna, pela Espanha, em 2008, e o zagueiro alagoano Pepe, por Portugal, em 2016.
As escalações, portanto, refletem décadas de mudanças demográficas. O histórico no esporte já sinaliza um risco real: o de vencedores serem exaltados como heróis de um mundo sem fronteiras, enquanto derrotados serão vítimas de ainda mais preconceito. Foi assim com a França da geração de Zinedine Zidane e tantos outros. Nas conquistas, o bleu, blanc, rouge (azul, branco, vermelho) da bandeira deu lugar ao bleu, blanc, beur (azul, branco, árabe), uma ode à pluralidade. Nos fracassos, a xenofobia deu o tom. “Quando faço gols, sou francês. Quando não faço, sou árabe”, definiu anos atrás Karim Benzema, muçulmano de origem argelina, que se nega a cantar os versos sobre “sangue impuro” da Marselhesa, o hino francês. De volta à seleção, ele é uma das atrações do torneio mais miscigenado da história.
Publicado em VEJA de 23 de junho de 2021, edição nº 2743
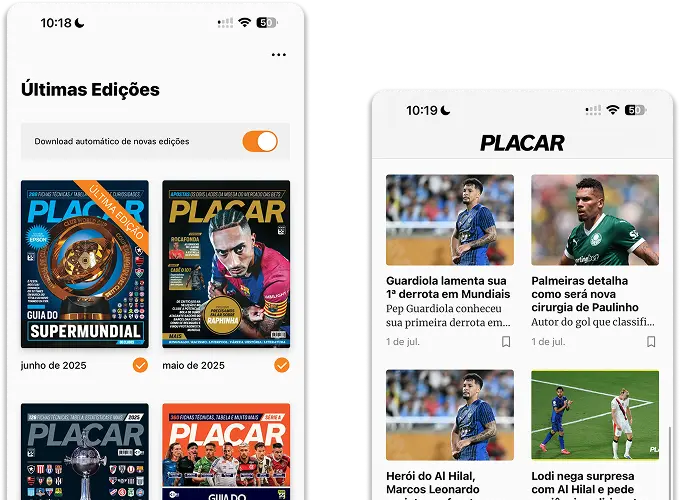
Baixe nosso aplicativo
Uma frase para descrever motivos para baixar nosso aplicativo
Baixe nosso app




















